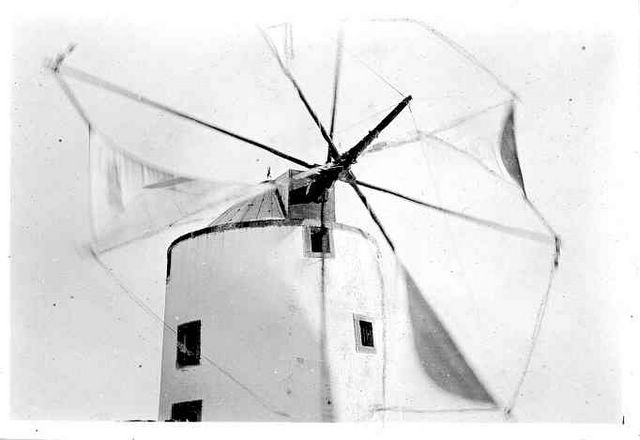Fico no sétimo andar de um prédio com mais de trinta, uma residência universitária. O sétimo andar é o único que tem varanda (e o único em que se alojam professores), um espaço que se estende por um comprimento igual ao do estúdio que é a casa. Tem pouco mais de um terço da largura. Esta é a varanda mais ampla do andar; as outras são-lhe contíguas e vão diminuindo gradualmente de comprimento, embora algumas sejam mais largas. A face dos andares por cima alinha com as janelas e as portas das varandas deste. Sem varandas, nenhum dos andares de cima tem porta, mas todos têm janelas. Quase sempre fechadas, sem deixar fresta na superfície verde-vidrada do prédio, mas que se podem abrir.
Ontem cheguei a casa já era escuro e limitei-me a inclinar as bandas das persianas, já descidas, para evitar a luz (não a claridade, enfim...) matinal. Não ouvi nada de estranho. Fiquei até às três da manhã a ver filmes com a Katherine Hepburn no TCM. Descansadinha.
Esta manhã acordei eram oito horas. Tentei voltar à cama, mas já não havia sono. Dei os cinco passos curtos que levam da cama à parede janela-porta-janela e fiz girar o canudinho que inclina e desinclina as bandas finas das persianas. A meio da varanda estava uma caixa de cereais, vazia, com a abertura a mostrar-se. Ainda ali está, parada, a dizer que não há vento na cidade. Junto à janela da esquerda, de espaldar no chão e pernas traseiras viradas para mim, uma cadeira sem fundo e sem as pernas da frente. Assim, a menos de um metro da janela. Esta é a altura do ano em que os alunos antigos deixam a residência e chegam os alunos novos. Os que saem alugam camiões de mudanças, os SUV dos primos, táxi-vans ou atrelados, para tentarem levar as miudezas e os móveis maiores que usaram enquanto aqui viveram. O que já não lhes serve, defenestram. Ou isso ou a cadeira tinha uma vida demasiado infeliz.
sábado, 6 de agosto de 2005
Death of a chair
>
Cadeiras