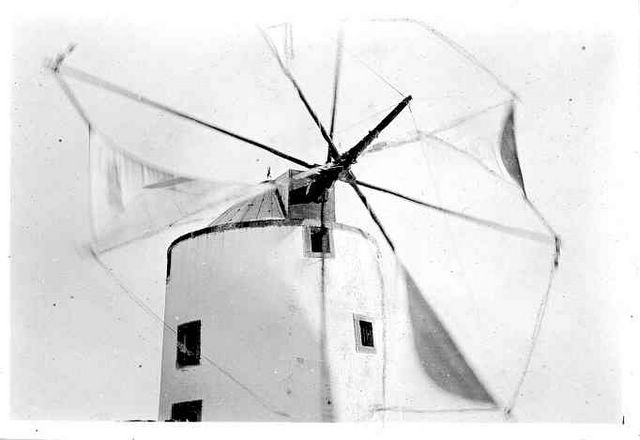Nos dias de Verão como tem estado, na aldeia do Reboliço era costume fechar-se a mercearia a meio da manhã. Não se cumpria nenhum horário antes estabelecido; fechava-se porque toda a actividade humana e animal se suspendia. Por conta do calor. Começava a ouvir-se com mais nitidez os passos de quem quer que fosse na rua, era possível contar as moscas só pelo zumbido que faziam e, se assomássemos ao postigo, viam-se as ondas do ar pesado a distorcer a imagem das fachadas das casas em frente, do outro lado do largo. Fechada a porta, que desde umas horas antes já era só uma nesguinha mal aberta a projectar nos ladrilhos cor de vinho a tira cegante a luz, ia-se ao quintal encher o balde de água - às vezes o metal da torneira queimava - e espalhava-se com a esfregona pelo corredor, refrescando todos os quartos, a despensa e as cozinhas à passagem. Era a calma. Não se podia estar.
***
Quando comecei a aprender matemática, lembro-me de o meu pai, em casa, ler comigo os exercícios que a D. Antónia tinha mandado fazer. Quase sempre os dois em pé, no meio da cozinha. Depois desses, em que eu por norma já estava versada e a que respondia com acerto, colocava-me perante outros, semelhantes mas novos, a testar-me. As primeiras respostas, com o entusiasmo de responder e a confiança de ter acertado nos problemas "oficiais", dava-as apressada e afoitamente; queria despachar o assunto e ir brincar, ou o que fosse. Mas, nas mais das vezes, errava a resposta. Ao fim de duas ou três tentativas goradas, o meu pai punha-me a mão em cima do ombro, de frente para mim, e apertava um bocadinho, mal uma pressão. Dizia-me: "Não podes responder à pressa, tens de ter calma e pensar." Sempre associei o ter calma à segurança daquela mão sobre o meu ombro. E ainda hoje, quando me precipito nalguma resposta, lhe sinto a falta. (Segreda-me o Reboliço que é assim aprender: criar a partir de nós a força de uma mão que não aperta desde fora.)
***
Quando comecei a aprender matemática, lembro-me de o meu pai, em casa, ler comigo os exercícios que a D. Antónia tinha mandado fazer. Quase sempre os dois em pé, no meio da cozinha. Depois desses, em que eu por norma já estava versada e a que respondia com acerto, colocava-me perante outros, semelhantes mas novos, a testar-me. As primeiras respostas, com o entusiasmo de responder e a confiança de ter acertado nos problemas "oficiais", dava-as apressada e afoitamente; queria despachar o assunto e ir brincar, ou o que fosse. Mas, nas mais das vezes, errava a resposta. Ao fim de duas ou três tentativas goradas, o meu pai punha-me a mão em cima do ombro, de frente para mim, e apertava um bocadinho, mal uma pressão. Dizia-me: "Não podes responder à pressa, tens de ter calma e pensar." Sempre associei o ter calma à segurança daquela mão sobre o meu ombro. E ainda hoje, quando me precipito nalguma resposta, lhe sinto a falta. (Segreda-me o Reboliço que é assim aprender: criar a partir de nós a força de uma mão que não aperta desde fora.)