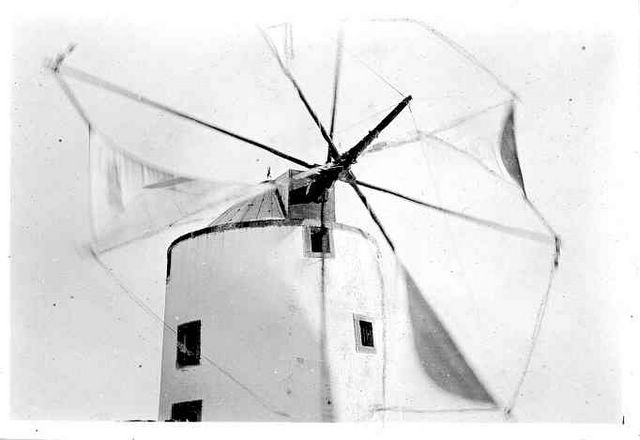O Reboliço acorda a meio da noite, na casa estranha que o acolhe. Desce as escadas (são escadas de madeira velha, corrimãos de madeira velha, e pisa com cuidado para evitar o ranger das tábuas, aqui sim, aqui - ui!, não; aqui mal se ouve, sim) até à cozinha, os olhos fixados no jarro do chá, na água que consolará pele, órgãos, pêlo, tudo desidratado pela ferocidade das máquinas de fazer e de manter calor. Mas no vidro da janela chama-lhe a atenção uma mancha silhueta, redonda grande em baixo, redonda menor em cima: um gato. Está do lado de fora, encostado ao vidro, empurrado contra a superfície aquecida do vidro, colado à transparência quente da janela. O Reboliço estaca, mira, as orelhas subidas, suspende a pata da frente, baixa-a devagarinho, mais cautela ainda do que nas escadas, um olho no gato o outro no jarro, a sede, o temor, a misericórdia. Se se mexe, ruído para a casa, susto para o gato - a noite arrefece. Se não se mexe, ah, a sede - mexe-se, então. Mexe-se a mancha peluda também, a silhueta alaranjada, um Garfield vadio, gordo e de rua, no tempo igual se mexe, mais astuto. O medo é dele, o frio para ele, a noite é à sua volta que se alarga. Mas é o Reboliço que, antes de chegar ao jarro, ao chá, à saciedade, patinha, patinha, patinha, se achega à janela, pousa as patas da frente sobre as costas da cadeira e toca com o focinho do lado de dentro do vidro, os olhos entristecidos pela fuga do gato e cegos sobre o escuro do jardim - "Não tinhas de ir. Não fiz de propósito." (Ouve, no pensamento, a história do escorpião e do sapo: "It's in our nature.")
skip to main |
skip to sidebar
Merci, Monsieur Daudet.
Gaveta das Cartas Velhas
On
- 50 Watts
- A Barriga de um Arquitecto
- A Causa Foi Modificada
- A Livreira Anarquista
- A Minha Serra
- A Stranger in My Grave
- Achaques e Remoques
- Acontecimentos
- Ainda Não Começámos a Pensar
- Alexandre Pomar
- All Things Pop
- Almanaque Silva
- Arquivo de Cabeceira
- As Aranhas
- Atempadamente
- Atlântico-Sul
- Azuis Ultramarinos
- Bacalhau Cinema Clube
- Bartleby Bar
- Beco das Imagens
- BibliOdyssey
- Bicho Ruim
- Binary Bonsai
- Bizarrias e Minudências
- Bloggy
- Boing-boing
- Bomba Inteligente
- Bonecos de Bolso
- Brain Pickings
- Canhota Absoluta
- Caos Declinável
- Carpintaria das Coisas
- Catastrophe (antes conhecido como Last Tapes, depois como Dias Felizes e ainda como Malone Meurt)
- Centro Nacional de Contracultura
- Cidade Surpreendente
- Cine Madalena
- Cineclube de Faro (Blogue)
- Cineclube do Porto
- Cinemas Paraíso
- Clouds 365
- Colonial Film Archive
- Contra Mundum
- Da Casa Amarela
- Debout Sur l'Oeuf
- Desenhador do Quotidiano
- Design Crisis
- Despesa Diária
- Diário de Trabalho
- Diary Scenes
- Dias com Árvores
- Digital/Pausen (Hans Ulrich Gumbrecht)
- Do Trapézio, sem Rede
- Drama Pessoal
- El Visir de Abisinia
- Ela diz que diz
- Escrever é Triste
- Extra Light
- F-World
- Fátima Rolo Duarte
- Form Is Void
- Girish Shambu
- How to live
- Hugo Milhanas Machado
- Indie.ana.words
- Interferências
- iznotmeizyou
- James Wagner
- Jason Kottke
- Jesús Jiménez Domínguez
- Jonathan Rosenbaum
- Khipukamayoq
- Kino Slang
- Lavorare Stanca
- Lei Seca
- Ler BD
- Lilly's Lifestyle
- Louletania
- LyraComPoetics
- Mala Voadora
- McSweeney
- Meia Palavra
- Memória da Fábrica de Louça de Sacavém
- Miss Marbles
- Moby - LA Architecture
- MODERN!SMO
- Modo de Usar & Co.
- Montag [Capas de livros]
- Mumpsimus
- Na Esplanada ao Luar
- Não Gosto de Plágio
- Nefriakai (O Vermelho e o Negro)
- Notas de Leitura
- Notícias de Três Linhas
- O Alto da Peúga
- O Bule
- O Cão Celeste
- O Charme Discreto da Bloguesia
- O Crime de Laio
- O Grande Salto em Frente
- O Lacaio
- O Melhor Amigo
- O Sétimo Continente
- O Único Verdadeiro Deus Vivo
- O Verdete
- Object of My Obsession
- Obvious Magazine
- Opción Barcelona
- Ordet
- Os Fantasmas de Lisboa
- Paralelo W
- Pedro Sena Nunes
- Peixinho de Prata [livros-objecto]
- Pitchfork
- Poesia Incompleta
- Portal Anarquista
- Próximo Futuro
- Putney Debater
- Rancho Carne
- Raposas a Sul
- Reflexões de um Cão com Pulgas
- Restos de Colecção
- Retrovisor
- Sem-se-ver
- Senhor Montag
- Shakespeare's Bleeding Corpses
- She Blogged by Night
- Sound+Vision
- Surabaya 2
- Surrealismo Internacional
- Tails of the City
- Tantas Páginas
- The Art of Memory
- The Life Taster
- The Literate Lens
- The Valve
- Thrush
- Tiago Baptista
- toMteria
- Um Destes Dias
- Um Túnel ao Fundo da Luz
- Unspoken Cinema
- Vastulec
- Via Liivia
- Virtual Illusion
- voluptama
- Whorange
- Wunderkammer
&
- 101 Cookbooks
- Allegra's Cookalong
- BBC Good Food
- Cannelle et vanille
- Cheap, Healthy, Good
- Chucrute com Salsicha
- Cinebistrot
- Come-se
- Comidas Caseiras (T2)
- Criança na Cozinha
- Da Cachaça pro Vinho
- David Lebovitz
- David Leite
- E-Boca Livre
- Eat-Me Daily
- Endless Simmer
- Erika Rax
- Expendable Edibles
- Fancy Fast Food
- Figo Lampo
- Flagrante Delícia
- Food Geeks
- FXCuisine
- Garfadas Online
- Gourmet
- Jaws Wired Shut
- La Chinata
- Lost Past Remembered
- Mais Olhos que Barriga
- Memorie di Angelina
- Mesa Marcada
- No Soup for You
- Outras Comidas
- Peixe e Outros Sabores
- Pinch My Salt
- Pitéu
- Prove Portugal
- Receitas do i
- Roberta Sudbrack
- Sabor Intenso
- Salad Pride
- Salt & Fat
- Santa (BCN)
- Simply Recipes
- Tertúlia de Sabores
- The Kitchn
- The Philosophy of Food Project
- They Draw and Cook
- Trem Bom
- What the Hell Does a Vegan Eat Anyway?
- Zine de Pão
+
- &etc
- 1870 Livros
- Angelus Novus
- A Phala
- APR. Realizadores Portugueses
- Argumentistas
- Arts & Letters Daily
- Assírio & Alvim
- Assírio & Alvim (Livrarias)
- Blitz (Ano I)
- Blog da Companhia [Companhia das Letras]
- Blogs and Docs
- Books from Finland
- Cahiers du Cinéma
- Cinema Scope
- Cinética
- City Journal
- The Cloud Appreciation Society
- Colóquio/Letras
- Companhia das Ilhas
- Contracampo
- Cosac Naify
- Creative Review
- Dafne
- DOC.online
- Film Comment
- Film-Philosophy
- Foco - Revista de Cinema
- Fora do Lugar
- Frenesi Loja
- Frieze Magazine
- Green Cine Daily
- Les Inrockuptibles
- Intermídias
- Jornal dos Arquitectos
- Journal of Moving Image Studies
- Jump Cut
- LER
- Letters of Note
- London Review Blog
- The New Criterion
- The New York Review of Ideas
- Las Nubes
- October
- Pátio de Letras
- Pó dos Livros
- Quasi
- Relógio d'Água
- Rouge
- ScienceNews
- Second Nature
- Senses of Cinema
- Sibila
- Vice
#
- AIM - Associação de Investigadores da Imagem em Movimento
- American Literary Blog
- Amor de Perdição
- APORDOC
- Archivio Luce Cinecitá
- Arlindo Correia
- Arquivos do Ministério do Ultramar
- ArtCat
- Artist Book Database
- Árvores de Portugal
- Árvores no Cancioneiro Popular
- Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas
- Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental
- Atlas Obscura
- Aula Magna
- Babel Med
- Banco Comparativo de Imagens - Warburg
- Beatles Tube
- Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
- Biblioteca Digital de Literatura Brasileira
- Biblioteca Digital do Instituto Camões
- Biblioteca Digital do Plano Nacional de Leitura
- Bibliotecas Manuscriptas (CSIC)
- Brasiliana Fotográfica
- British Pathé
- Buala - Cultura Contemporânea Africana
- Casa da Leitura
- Central Park Nature
- Ciberdúvidas da Língua Portuguesa
- CinéLycée
- Contemporary Portuguese History Online
- Digital Dead Sea Scrolls
- Directory of World Cinema
- Dissertation as Haiku
- Docfera
- Documentary Guide
- Domínio Público no Brasil
- E-Dicionário de Termos Literários
- Estante Virtual (Blogue do Buscador de Sebos)
- Europa Film Treasures
- European Film Gateway
- Filosofia em Português
- Flora On
- Forma de Vida
- Free Technology For Teachers
- Global Medieval Sourcebook
- Google Art Project
- Grécia Antiga
- Guia Prático da Nova Ortografia
- Hemeroteca Digital do Brasil
- História do Cinema Brasileiro
- Internet Archive
- Invitation to World Literature
- Itaulab
- LIFE Photo Archive
- LIFE.com
- Literary Traveler
- Literatura Española en el Cine
- Lugar do Real
- Masters of Cinema
- Memória Media
- Michel Subrenat-Auger
- Museologia Porto
- Museu de Arte Popular
- Museu Nacional do Teatro
- National Film Board (Canadá)
- National Portrait Gallery Archives
- Novíssimo Cinema Brasileiro
- Novo Cinema Português (1949-80)
- Núcleo de Programação Cinematográfica
- O Movimento dos Cineclubes
- OAPIX
- Omniglot
- Open Culture
- Papadocs
- Pensamento Crítico Contemporâneo
- Philosophy Talk
- Plano Nacional de Cinema 2017-18
- Portal da Língua Portuguesa
- Português Exacto
- Programa em Teoria da Literatura
- Programadora do Brasil
- Real Gabinete Português de Leitura
- Rede de Filosofia e Literatura
- RTP Arquivo
- Seminário de Estética Analítica
- smArt History
- Stanford Encyclopedia of Philosophy
- TerminArtors
- The Ancient Standard
- The Beauty of Maps
- The Encyclopedia of Earth
- The European Library
- The History Blog
- The Internet Classics Archive
- The Medieval Bestiary
- The Metropolitan Museum of Art [blog]
- Timeline of Art History - Metropolitan Museum
- Tin Eye
- Ubu Web
- Underconstruction
- Urban Dictionary
- ViajarCom
- Voice of the Shuttle
- World Digital Library
- World Wide School
Onomástico
- [Under the Volcano]
- António Reis
- Bill Nichols
- Blasted Mechanism
- Bob Dylan
- Camilo Castelo Branco
- David Benson
- David Byrne
- David Lynch
- David Wojnarowicz
- Djaimilia
- Edgar Allan Poe
- Emily Dickinson Archive
- Ernst Gombrich
- Ernst Jünger
- Fernando Pessoa
- Henrik Ibsen
- J. G. Ballard
- J. P. Simões
- João César Monteiro
- Johnny Cash
- Jorge Colombo
- José Carlos Fernandes
- Juan Rulfo
- Kehinde Wiley
- Konstandinos Kavafis [English]
- Konstandinos Kavafis [Português]
- Machado de Assis
- Malcolm Lowry
- Mário de Sá Carneiro
- Mary Shelley
- Michel Foucault
- Oliver Sacks
- Orson Welles
- Pedro Costa (blogue)
- Pedro Costa (oficial)
- Pier Paolo Pasolini
- Straub & Huillet
Off
- 5 Bloggers de Cinema
- A Arte Moderna
- A Memória Inventada
- A Mulher do lado
- A Pedra
- A Senhora Sócrates
- Afílmico
- Alice Geirinhas
- Amarcord
- Atempadamente
- B-Side Vans Project
- Black Box Syndicate
- Blogue da Rua Nove
- Blogue da Rua Onze
- Broken Type
- Cadernos do Curumim
- Cadernos dos Goitacás
- Caixa dos Fósforos
- Casmurro
- Chateau Thombeau
- Chá de Letras
- Cidades Crónicas
- Cão
- Eelco Runia
- E o Esplendor dos Mapas
- É Tudo Gente Morta
- Escrito a Lápis
- Estado Civil
- Estrelas na Minha Coroa
- Fabulon
- Finland Diary
- Glu-Tai-Moto
- Imagens da Cidade
- Isabel Nuñez [R.I.P.]
- Jahsonic
- Killing Time
- Lagarta Lanuda
- Leitura Partilhada
- Liivian talossa
- Metaxu Café
- O Anjo Exterminador
- Olho Clínico
- Pans de Pessic
- Passado/Presente
- Purple Diamond Sneaker Blog
- Quadrinhos em Quadrinhos
- Queridos Gatos
- Sexualidade Feminina
- Tame the Kant
- Um Diário de Goldmundo
- Isabel Nuñez [R.I.P.]