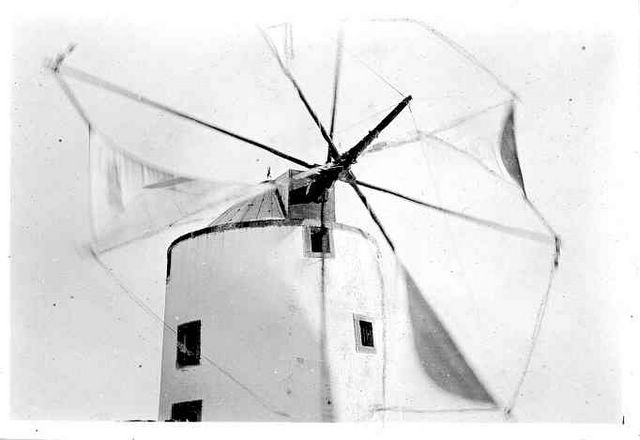Ao desafio
lançado aqui pelo Miguel Martins, respondi com
o relato da leitura de O Estrangeiro, de Albert Camus (numa edição igual à que aparece na imagem com que o Miguel ilustrou o
post).
Não me lembro de ter lido a primeira frase. Nem a segunda. Mas recordo com
imagem vívida a sensação de não poder senão continuar a ler, do desconforto e
da necessidade de ler. A primeira frase que sublinhei foi “Isto não quer dizer
nada.” É a quarta, se contar como terceira a que inclui aquilo que um telegrama
dizia (“‘Sua mãe falecida. Enterro amanhã. Sentidos pêsames.’”). Foi aí que parei,
detida por este atirar para a insignificância a notícia da morte de uma mãe.
Por aquele tempo, habitando um quarto interior no segundo andar de um
apartamento antigo, suado lugar depois de ruas e demasiados degraus, no Alto do
Pina, desatava quanto podia os nós que me prendiam à minha. De uma infância e juventude
agarrada às suas saias negras (tão enlutada andou), passava a regrar o tempo entre
telefonemas para os montes além do Tejo, muito depois da Serra do Caldeirão,
onde a província era ainda, no começo dos noventa, um lugar de acesso demorado
e duro – e não só por falta de moedas para o que na altura eram os telefones
públicos. Fazia-me eu e os livros
eram o que tornava inconsútil a junção daqueles dois retalhos, o da vida antiga
e o da vida nova.
“Isto não quer dizer nada.” Assim se oferecia (e eu, por aquele sublinhado,
aceitava) anular o que estava para trás. Sem imaginar o que viesse daí por
diante – no livro e nessa que em mim estava a criar, as palavras encontravam-me
num quarto que o apartamento tinha cheio de sol às horas da tarde. Era um dia
de semana, devia ter voltado das aulas. A casa estava vazia de quem
habitualmente ali andava: como o meu quarto não tinha janelas para a rua,
invadi aquele que o sol invadia e onde soava a zoada quieta da rua,
vizinhas a falar de janela em janela, poucos automóveis, alguém a perseguir alguém
em corrida, uma gargalhada do café da esquina. O segundo
andar permite esta distância e esta contiguidade. Seria Verão? O livro
comprei-o pelo fim de Setembro – talvez fosse o começo de um Outono, quando as
tardes são mornas, quantas vezes sem nuvens, e o ar seco faz propagar os sons
como se estivessem mais longe ainda. Havia uma cadeira. Havia uma cadeira que
instalei no meio do quarto – à medida que fui lendo, foi como se se fixasse
mais ao chão, e as veias onde passava o meu sangue viessem a ser os veios da
madeira onde me sentava, imóvel, as mãos nada mais que ramos ressequidos no
vento do que imaginava da praia que lia, do quarto de hotel, da cela da prisão,
passando as páginas, passando as páginas, passando as páginas.
“O facto de a
sentença ter sido lida, não às cinco da tarde, mas às oito horas da noite”
tirava à condenação tão grave a seriedade que Mersault esperava – na minha
ideia, que a lera pelas cinco da tarde, a gravidade pesava-lhe séria. Às oito
da noite talvez já me revolvesse entre a que deixava ir embora, quieta para
sempre, conformada com a ordem e a familiaridade que até ali sentira à minha
volta, e esta que chegava com o estrangeiro
(“Quem é o estrangeiro?”, escrevi numa nota à margem), inquieta, daí para a
frente insone, daí para diante refém de uma consciência de conhecer-me a me estranhar, que cada letra naquelas folhas ia afiando.