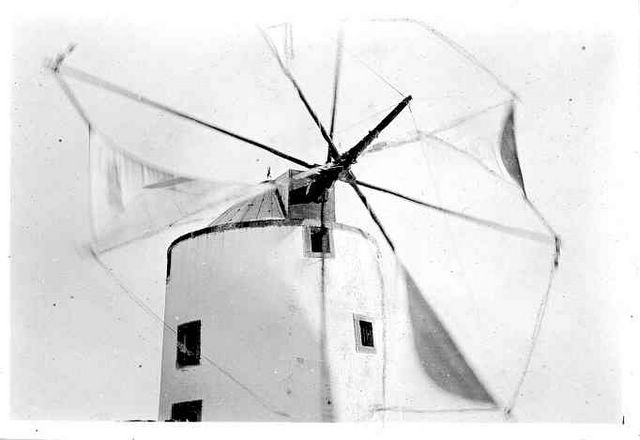Há uns anos, fui chamada a dar uma aula sobre arquitectura no cinema. Pediram-me que escolhesse um filme para ilustrar o tema. Ao telefone, e de impulso, atirei - Zabriskie Point! Depois de desligar, joguei as mãos à cabeça e tentei perceber por que cargas de água me teria lembrado daquele filme. Vira-o uns dez anos antes, não me lembrava de quase nada, a não ser das imagens do deserto e dos pares de amantes a rolar dunas abaixo, de qualquer coisa como o mais próximo que tinha experimentado de uma alucinação. De resto, népias: não me vinha à memória nada que no filme tivesse a ver com arquitectura. And yet...
Tratei de o rever e de refazer em mim a associação que explicasse a minha teimosia. Que era um filme sobre o espaço, disso não tinha dúvidas. Sem haver dele edição digital (tanto quanto sei, ainda não existe), vi o VHS em formato americano. Nada de grave. (Na mesma altura comprei a banda sonora, que tenho ouvido à exaustão. Nem que fosse só pela história do muito que Antonioni procurou a sonoridade precisa para as imagens que já tinha na ideia, os sons country à mistura com a guitarra de Jerry Garcia ou os insistentes desvarios de Pink Floyd fazem deste um disco histórico, no meu fraquinho entender.) Pois bem. Um dos assuntos-fio da intriga é a construção de um condomínio de luxo no deserto de Death Valley, na Califórnia. O filme era sobre o espaço, sim, mas sobretudo o espaço não urbano, a maneira de encher de gente um espaço - o deserto - que, além de inumano (inurbano?), é inóspito.
A caminho da dita aula, a chegar ao fim do km 200 dos poucos mais que dista a Universidade de Évora de onde parti, pensei se haveria ali um leitor de VHS do formato em que levava o filme. Damn! Por sorte, lembrara-me de levar comigo também os dois CDs com a banda sonora. Enquanto se procurava o bendito leitor, comecei a aula a falar de como a música de Garcia, ali, habitava o espaço do silêncio. Resolvido o busílis videográfico, ficou a turma e mais eu em silêncio, numa salinha de tecto baixo abobadado, reverencial, monástico. Víamos o deserto, víamos os manifestantes ainda de anos sessentas, a prisão, ouvíamos a aflição da guitarra, a sua conformação, os gritos de Roger Waters, o céu na noite, o céu no dia, o Vale da Morte e a explosão final, repetida repetida repetida.
Sobre arquitectura? Sim. Como escreve Robert Harrison, "na sua capacidade de formar mundos, a arquitectura transforma o tempo geológico em tempo humano, o que é outro modo de dizer que transforma a matéria em sentido" (p. 3). Foi isso, precisamente, que o filme de Antonioni fez.
Tratei de o rever e de refazer em mim a associação que explicasse a minha teimosia. Que era um filme sobre o espaço, disso não tinha dúvidas. Sem haver dele edição digital (tanto quanto sei, ainda não existe), vi o VHS em formato americano. Nada de grave. (Na mesma altura comprei a banda sonora, que tenho ouvido à exaustão. Nem que fosse só pela história do muito que Antonioni procurou a sonoridade precisa para as imagens que já tinha na ideia, os sons country à mistura com a guitarra de Jerry Garcia ou os insistentes desvarios de Pink Floyd fazem deste um disco histórico, no meu fraquinho entender.) Pois bem. Um dos assuntos-fio da intriga é a construção de um condomínio de luxo no deserto de Death Valley, na Califórnia. O filme era sobre o espaço, sim, mas sobretudo o espaço não urbano, a maneira de encher de gente um espaço - o deserto - que, além de inumano (inurbano?), é inóspito.
A caminho da dita aula, a chegar ao fim do km 200 dos poucos mais que dista a Universidade de Évora de onde parti, pensei se haveria ali um leitor de VHS do formato em que levava o filme. Damn! Por sorte, lembrara-me de levar comigo também os dois CDs com a banda sonora. Enquanto se procurava o bendito leitor, comecei a aula a falar de como a música de Garcia, ali, habitava o espaço do silêncio. Resolvido o busílis videográfico, ficou a turma e mais eu em silêncio, numa salinha de tecto baixo abobadado, reverencial, monástico. Víamos o deserto, víamos os manifestantes ainda de anos sessentas, a prisão, ouvíamos a aflição da guitarra, a sua conformação, os gritos de Roger Waters, o céu na noite, o céu no dia, o Vale da Morte e a explosão final, repetida repetida repetida.
Sobre arquitectura? Sim. Como escreve Robert Harrison, "na sua capacidade de formar mundos, a arquitectura transforma o tempo geológico em tempo humano, o que é outro modo de dizer que transforma a matéria em sentido" (p. 3). Foi isso, precisamente, que o filme de Antonioni fez.