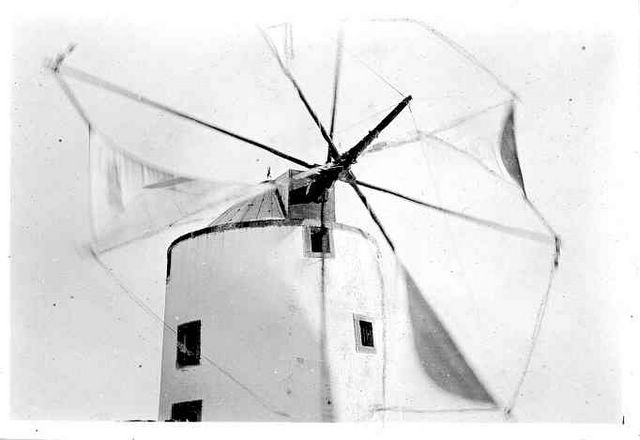O parapeito da janela da cozinha fica a menos de um metro do chão. (Um dos ladrilhos esteve muito tempo solto, fazia um clique reconfortante debaixo dos pés, como se dissesse "estás bem, é por aqui".) O parapeito é de madeira, de uma madeira que o vidro magnetizou e me puxava até si de cada vez que entrava na cozinha. Quando comecei a assomar, sem esforço nem banco, os olhos para lá do vidro, conseguia ver desde o mar, uma linha direita e iluminada mesmo nos dias de nuvens baixas. Durante alguns anos era só cortada por três ou quatro torres em Quarteira, outras duas ou três de Vilamoura, que se foram unindo umas às outras com mais torrezinhas pelo meio, até não se distinguir onde começavam e acabavam as duas vilas e ser completa a separação entre mar e terra. Daí para cá, também durante muito tempo, foi a massa suave de verde - que em Janeiro as amendoeiras branqueavam - e o maciço também doce do Cabeço de Câmara (lembro a voz da Sra Virgília a apontar e a ensinar-me o nome do cerro), que veio a ser traçado pela Via do Infante depois de meses de dinamite para deixar passar as luzes que nunca mais pararam de passar, para Barlavento e para Sotavento. De dia é ainda essa massa suave: hortas de árvores baixas, valadinhos de pedra; mas de noite há um pontilhado de luzes a denunciar as casas que foram cogumelando por ali. Daí para cá, o limite da cidade, que era vila, ficava no palácio da Fonte da Pipa, que hoje quase não se distingue das construções novas que alargaram Loulé. Daí para cá, já próximo, via-se a clarabóia de uma casa onde o pai ficara uns dias, ou uns meses, antes de nos mudarmos para este 6º andar. E, a dar sentido a tudo, como uma rosa dos ventos, estava a rotunda. Não era ainda esta fonte com figuras de ferro sobre uns arcos e a água - era uma larga moeda verde só com um poste de luz a sair-lhe do meio, onde os cães se passeavam sem donos nem dó da relva.
Para a esquerda da rotunda, para Sudeste, ficava uma loja de ferragens, escadotes, baldes e outras drogas, onde, no tempo deles, ainda aparece à porta uma caixa de dióspiros (fica o cenário da janela todo concentrado naquele laranja forte e maduríssimo), e por cima da loja a varanda do Ateneu; para cá, do lado Nordeste, ficam ocultas as portas e as lojas. A Noroeste é a esquina da Caixa Geral, mesmo antes do café e da esplanada da Havaneza Louletana; do lado oposto, o mercado, a praça. Entre a praça e a loja de ferragens está a frente de lojas mais visível da janela da cozinha: o estaminé do totobola (se a falhada memória não me falha, houve ali uma barbearia), a pastelaria Amendoal (das últimas a usar a rareante amêndoa algarvia) e a drogaria Liz, da Dona Liberdade e do Sr. Rodrigues, esses de memória boa, que desde há uns meses é uma sapataria deslavada, tem as portas mudadas em montras e a montra única mudada em sacrílega porta de entrada - pisa-se precisamente onde se levantava a pedra com o signo e o nome de Liz, que sustentava o vidro alto da montra.
(Aguarela de Loulé desde o parapeito da cozinha: João Soares, 1991. Da fase, como ele diz, aguarelal.)
As avenidas que confluem nesta rotunda têm os dois lados ligados, ao seu início, por passadeiras. Como são avenidas largas, as quatro passadeiras são duplas: a meio, têm todas uma pequena pausa de cimento entre canteiros de relva e flores. (Aos Sábados de manhã, quando a gente era muita a ir à praça, um polícia sinalizava as vezes de passarem carros e pessoas e inventava com o apito engarrafamentos de gente.) Eram esses intermédios passadeirais o palco preferido da Maria das Bananas, quantas vezes teimosa em cima da relva. Era cantora de muitas vozes, vozes de homem e vozes de mulher, que soava horas a fio conversas entre Deus e Álvaro Cunhal, entre Ramalho Eanes e Jesus Cristo, entre a fé e a euforia nacional.
Quando me assomava, às primeiras horas da manhã, agarrada ao pão com doce ou à caneca de leite, já ela cantava. Cantava ou dizia, dialogava, trialogava, fazia dramas completos e para cada personagem havia uma voz diferente: todas potentes, lançadas desde seis andares abaixo, meio quarteirão de prédios, toda uma rua até à rotunda, donde subiam. Vinha de roupa garrida - nunca se viu com nada que não fosse vermelho rubro, verde forte, amarelo. Eram as cores da bandeira do país, quando não a própria bandeira a fazer-lhe de xaile. (Em panos dignos, que ainda não houvera o Euro nem havia a essa altura em Loulé lojas dos chineses.) Vinha de vermelho e verde e punha-se a cantar o dia inteiro. O meu jogo era, quando não a via do parapeito da janela, tentar adivinhar de onde cantava, por algum eco das casas que circundavam a rotunda. Ouvia-lhe a voz muito clara, possante, muito distintas as palavras trocadas entre os seus cantores de dentro, e ela muito distinta a dar-lhes voz. De perto, se passava por ela na ida ao pão, via brilharem-lhe os olhos pretos, que quase nunca fechava a cantar, via-lhe o buço forte a sombrear o sorriso que só sabia passar a risada, jamais à curva descendente do choro.
Nunca a vi como matéria fotografável. É certo que não andava - não se andava como hoje - de máquina fotográfica em riste. A turistama sim: vinha preparada, achava graça à figura, e snap-snap-snap. Mostraram-me há dias duas dessas fotografias. Aparece de bermudas, de turbante, cores garridas. Não a via talvez desde 1986, a data dessas imagens. Mas não se lhe vê nelas o que tenho aqui dentro, na memória: o crucifixo de madeira, a moldura ao peito, com o retrato que uns dias era Cunhal e outros Cristo.
(Adenda, em 2020, a partir de grata informação de João Romero Chagas Aleixo: a drogaria do Sr. José Rodrigues e da D. Liberdade abriu em janeiro de 1938 e foi a primeira casa comercial, na então vila de Loulé, a ter telefone - foi 7 o seu primeiro número.)
(Adenda, em 2020, a partir de grata informação de João Romero Chagas Aleixo: a drogaria do Sr. José Rodrigues e da D. Liberdade abriu em janeiro de 1938 e foi a primeira casa comercial, na então vila de Loulé, a ter telefone - foi 7 o seu primeiro número.)